
Por Bruno Coelho (*)
(Oh não, mais um artigo sobre profecias bipolares dantescas?!)
Se há coisa que resulta da interpretação do panorama atual sobre a temática, é que parecem existir três opiniões:
- IA: The Terminator;
- IA: The Jetsons
- IA: Wall-E
Pedimos, desde já, desculpa, aos “millennials”, porque não devem conhecer a primeira nem a segunda referência.
Passamos a explicar: se um bom par de pessoas vê na IA o extermínio de toda a raça humana a la The Terminator (para mais detalhes, regressar no tempo, a 1984, e ver um ex-governador com um endosqueleto de metal, também chamado de T-800 Model 101), outro par de pessoas vê a IA como uma projeção animada da realidade de uns desenhos (The Jetsons – 1962-1963 e 1985-1987). Como?! Bem, nestes desenhos animados todos trabalham apenas uma hora por dia, dois dias por semana, deslocam-se de “aerocarro”, e tudo isto é possível porque a vida quotidiana é coadjuvada por uma panóplia de “aparelhos” inteligentes.
Já nesta Santíssima Trindade, há os últimos que olham para a IA como a salvação da raça humana (os tais Wall-Es), temperada com uma boa moral herdada, por osmose, dos humanos.
Parece-nos que, paralelamente à nossa sede de saber de onde viemos, quem e como fomos feitos, existe uma vontade inerente à condição humana em sermos, de igual modo, criadores.
O Homem depara-se agora com, talvez, o último desafio: criar inteligência.
Em “Ex Machina” criámos Ava, um robot de formas femininas que nos provou que nada é mais humano do que a vontade de sobreviver. Já no filme “A.I. – Artificial Intelligence ” criámos robots com capacidade para amar.
Até aqui “a coisa” parece pacífica, mas, entretanto, os robots ganham vida própria, e aparentemente “vida própria” significa ver todos os humanos como alvos a abater (“Eu, Robot”).
E se o panorama já parece assustador, então o que dizer de robots que nos transformam em pilhas para sustentar toda uma raça de máquinas que não nutrem muito amor por nós (Matrix)?!
Chegado a este ponto parece-nos que, de todas as visões, a mais parcimoniosa será a do filme de 1968 “Metropolis” (os millennials estão completamente perdidos), em que um robot é usado como uma ferramenta para manipular e causar a discórdia.
Mas parcimoniosa, porquê? Porque é mais natural que, por si, a IA não seja boa nem má, que não detenha em si uma essência axiológica mas sim que o uso que fazemos dela é que seja o ónus da questão.
Isto remete-nos para o verdadeiro “medo” da IA: se por si só o elemento é neutro e será o Homem a definir a sua atuação, não deveremos estar mais preocupados com a nossa intervenção?
Para muitos a opinião que tecem sobre o tema acaba por ser uma questão de gosto pela abordagem (como o bife: mal, médio ou bem passado). Para outros é mais dramático: biológica, transgénica ou processada?
Parece-nos que a abordagem tem que mudar, o mindset tem de se focar mais no “criador” e menos na “criação”. Como? Ora pensemos:
- Como queremos que a IA seja criada/arquitetada?
- Como queremos que seja aplicada?
- Em que dimensões da nossa vida faz sentido aplicar?
- Teremos que legislar sobre este tema? Teremos que nos proteger da IA criada por “homens maus”?
- Se a proteção de dados é o novo paradigma legislativo, então e a proteção da IA?
A regulamentação deste novo universo parece ser ainda um não-tema, uma não-preocupação. Ou não tivéssemos já entre nós a Sophia, a robot mais mediática da atualidade. De todos os ângulos e formas de delapidar este assunto, será o mais importante perceber os preconceitos, estigmas e arquétipos embutidos no código da Sophia?
Parece-nos que a abordagem passará por IA enquanto elemento probiótico da nossa vida humana: que nos ajude, faça companhia, divirta, cure e traga valor acrescentado à nossa condição humana.
(*) Specialist Consultant da área de Business Analytics da Mind Source
Em destaque
-
Multimédia
Ferrari revela interior do seu primeiro modelo elétrico. Design do Luce é criação de Jony Ive -
Site do dia
Atom Animation: a tabela periódica ganha vida em animações hipnotizantes -
App do dia
Salte de teia em teia e acompanhe as aventuras de uma pequena aranha com uma grande missão -
How to TEK
LinkedIn já começou a usar dados dos utilizadores para treinar IA. Veja como desativar

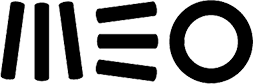
Comentários