
Por Susana Delgado (*)
A inteligência artificial generativa já está a transformar as indústrias criativas. Pode compor, masterizar, clonar vozes, criar versões alternativas e até ajudar a promover artistas para novos públicos. Mas sem regras claras e fiscalização efetiva, corre-se o risco de legitimar a maior apropriação abusiva de propriedade intelectual da era digital. Consentimento, transparência e remuneração são as três palavras que músicos, produtores e editoras repetem há meses enquanto observam empresas tecnológicas erguerem impérios de IA com base em catálogos que nunca licenciaram.
O AI Act entrou em vigor em agosto de 2024, mas algumas das maiores tecnológicas já sinalizaram resistência. Sem sanções proporcionais e aplicação prática, a lei arrisca falhar no essencial: proteger quem cria. Não estamos perante uma guerra entre cultura e tecnologia, mas perante um vazio regulatório. Sem regras claras, empresas de maior escala capturam o valor de catálogos inteiros, gravados e compostos por pessoas, sem autorização, sem revelar os dados usados no treino dos modelos, sem pagar. É concorrência desleal: quem cumpre a lei perde para quem se apropria em massa de obra alheia.
O impacto económico começa a ser quantificado. No setor da música, estima-se que os rendimentos dos músicos possam cair até 24%, representando uma perda de 22 mil milhões de euros ao longo de cinco anos, segundo o Financial Times. Esta não é apenas uma ameaça ao rendimento individual, mas também ao investimento em toda a cadeia de valor. Confesso que me inquieta o silêncio cúmplice que rodeia este tema. A inteligência artificial já é causa de perda efetiva de empregos noutros setores. O setor criativo não só não será exceção como pode mesmo ser daqueles em que se verificará uma perda de valor e de trabalho (liberal ou por conta de outrem). Enquanto uns perderão o emprego, outros perdem rendimentos sem notificação. Ambos merecem proteção e regras claras. A questão não é travar a tecnologia, é garantir uma transição justa e uma adequada repartição de valor em toda a cadeia criativa.
Face a este cenário, surgem movimentos internacionais de defesa dos criadores. Um deles é o Stay True to the Act, iniciativa da IFPI que chegou a Portugal através da Audiogest e com o apoio de 18 artistas nacionais. O objetivo é simples: exigir que o AI Act não fique apenas no papel, mas se traduza em obrigações efetivas de consentimento, transparência e remuneração. A mensagem é clara: a inovação tecnológica deve avançar, mas sem deixar para trás quem cria.
Para quem olha de fora, isto pode parecer detalhe técnico. Não é. A opacidade no treino dos modelos significa que ninguém sabe com rigor a origem dos dados que os alimentam. Usar reportório protegido sem consentimento ou licenciamento remunerado é apropriação indevida. Quando um serviço lucra com conteúdos criados a partir desse reportório, deve assumir responsabilidades. Para garantir cumprimento, os conteúdos sintéticos têm de ser rotulados e as sanções proporcionais ao volume de negócio dos infratores. Cumprir não pode ser opcional.
O AI Act representa um avanço. Em vigor desde agosto de 2024, tem aplicação faseada: primeiro, proibições e códigos de conduta; a partir de 2026, obrigações mais rigorosas para sistemas de alto risco e modelos fundacionais, incluindo transparência técnica e documentação. Para a música e as indústrias criativas, o desafio é transformar estas obrigações em deveres concretos de consentimento e fiscalização. Sem aplicação efetiva, permanecerá letra morta. Mas vale sublinhar: o AI Act não é um acordo voluntário – é lei europeia. Ainda assim, grandes tecnológicas contestaram partes do diploma e recusaram compromissos propostos pela Comissão, preferindo aguardar pela regulamentação secundária. A oposição pública da Meta ilustra essa resistência.
Outro obstáculo é a falta de debate público. A complexidade afasta a cobertura mediática. A narrativa de que “não se pode travar o futuro” distorce a discussão: quem pede regras é rotulado de retrógrado, quando apenas exige condições justas de mercado. Faltam casos mediáticos com rosto. Nas redações, com menos tempo e menos recursos, sobram títulos superficiais. Entretanto, as big tech moldam o enquadramento com comunicados bem afinados.
Este debate ultrapassa o editorial: é economia nacional. Editoras, estúdios, publishers, agências, media, PME criativas e tecnológicas, todos precisam de regras claras para investir e competir. São necessárias bases de dados auditáveis, acessíveis às autoridades. Onde o consentimento individual seja impraticável, deve existir licenciamento coletivo eficaz e repartição justa. A sinalização de conteúdos sintéticos deve ser obrigatória. E o Estado deve dar o exemplo, contratando apenas sistemas conformes.
Nada disto pretende travar a tecnologia, apenas obrigá-la a competir limpo. A IA já beneficia a música: da composição assistida à masterização, da dobragem à logística de digressões, da descoberta de públicos à promoção internacional. Mas a inovação exige dados limpos, licenças adequadas e remuneração justa. Sem artistas, não há conteúdos de qualidade. Sem transparência, não há confiança. Sem fiscalização, não há mercado – há captura.
Estamos num momento decisivo. Podemos definir agora um contrato social entre criadores, tecnologia e público que garanta mais investimento, menos litígios, mais inovação licenciada e mais rendimento para quem cria. Se a Europa executar bem, ganhamos todos.
(*) Head Marketing & Communication na Audiogest
Em destaque
-
Multimédia
Carros elétricos compactos e modulares: Que modelos já pode conduzir e que ofertas estão a caminho? -
App do dia
Dragon Ball Gekishin Squadra desafia os jogadores para batalhas em equipas -
Site do dia
Talking Tours: Faça uma visita guiada com guias de áudio através do Street View da Google -
How to TEK
Como remover widgets da barra de tarefas do Windows 11

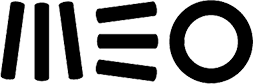
Comentários