
Por Patrice Caine (*)
Há mais de uma década, Marc Andreessen escreveu a célebre frase “software is eating the world”, uma afirmação que marcou uma era. Esta frase refletiu uma transformação profunda - a tecnologia digital, que revolucionou o nosso quotidiano e o modo como as economias funcionam.
Este ciclo de mudança foi pautado por avanços significativos, frequentemente promovidos por startups capazes de redefinir setores inteiros em poucos meses, graças à força das ferramentas digitais. A sua rapidez de execução foi possível ao crescimento acelerado dos dados, ao acesso a infraestruturas de computação cada vez mais poderosas e a uma abundância de capital disponível para financiar ideias, num contexto em que houve facilidade para entrar no mercado.
Contudo, este modelo parece ter atingido o seu limite. Entramos agora numa nova era da inovação - uma fase em que as grandes descobertas virão menos de mudanças no comportamento dos utilizadores e mais de progressos científicos fundamentais. A inovação torna-se mais profunda, mais exigente e mais intensiva em conhecimento.
As tecnologias emergentes mais promissoras - como a computação quântica, a fusão nuclear, a biotecnologia, os novos materiais ou as interfaces cérebro-máquina - estão intrinsecamente ligadas à ciência de ponta. O seu desenvolvimento exige ciclos longos, infraestruturas complexas, talento altamente especializado e financiamento capaz de sustentar vários anos de incerteza, antes de se vislumbrarem retornos económicos. Já não basta a agilidade ou a criatividade digital: trata-se de um desafio científico e industrial de enorme escala.
Isto não significa o fim da tecnologia digital, muito pelo contrário - continuará a ser uma base essencial para conceber, simular, industrializar e distribuir estas inovações. Mas a origem das próximas grandes revoluções desloca-se para a fronteira do conhecimento científico.
Mais do que uma substituição, trata-se de uma convergência: a do software com as ciências físicas. Ferramentas digitais avançadas, como a inteligência artificial, já estão a acelerar a criação de novos materiais, o desenvolvimento de medicamentos e a otimização de processos energéticos. Em sentido inverso, os avanços nas ciências aplicadas ampliarão o potencial das tecnologias digitais, tornando, por exemplo, os sistemas de IA mais eficientes e sustentáveis.
Estamos, assim, perante uma mudança de paradigma que redefine o mapa das competências, dos modelos económicos e dos ecossistemas de inovação.
A Europa - e Portugal em particular - têm aqui uma oportunidade estratégica. O continente ainda preserva uma base industrial sólida e empresas com um ADN tecnológico capazes de operar em horizontes temporais longos. Dispõe também de uma rede académica e científica de excelência, que combina centros de investigação de referência com universidades de grande prestígio. Em Portugal, o dinamismo de polos como o Instituto Superior Técnico e a Universidade do Porto demonstra o potencial nacional para participar nesta nova vaga de inovação profunda (deep tech).
No entanto, é necessário criar as condições certas: um ambiente regulatório, fiscal e político estável e favorável ao investimento de longo prazo; maior ligação entre investigação pública e tecido empresarial; e uma visão europeia coordenada para enfrentar as estratégias tecnológicas de potências como os Estados Unidos da América e a China.
O mundo não será menos digital no futuro — mas as grandes inovações virão, cada vez mais, de empresas capazes de trabalhar em estreita colaboração com a investigação fundamental e de combinar a ciência digital com a física.
A questão é: estarão essas empresas na Europa? Se o Velho Continente — incluindo países como Portugal — souberem valorizar os seus ativos científicos e industriais, poderão liderar a revolução deep tech que moldará a próxima era da economia global.
(*) CEO do Grupo Thales

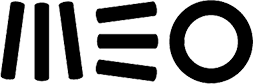
Comentários