
Por Miguel S. Albergaria (*)
No auge dos últimos incêndios, o nosso PM anunciou o propósito de um plano, a vinte e cinco anos, de ordenamento da floresta e controlo dos fogos. Um sistema desses – tal como o sistema ferroviário que o governo anterior e não sei se este também ia(m) reformular, o sistema de saúde etc. – definem-se como sociotécnicos. Sistemas com (pelo menos) três classes de componentes: uma técnica, constituída pelos artefactos relevantes (ex. camiões-cisterna), cujos comportamentos são descritos pelas leis da natureza; uma componente social, constituída pelos operadores e pelos utilizadores, cujos comportamentos decorrem do cumprimento/transgressão por esses agentes das prescrições relativas a essa operacionalização e utilização; e a componente institucional destas regras prescritivas.
Ora, a propósito desses grandiosos planos de tais sistemas, há uma questão englobante que se deve considerar: o design de sistemas sociotécnicos pode, em geral, ser desenhado e implementado top-down, pela mão, digamos, de uma equipa nomeada por qualquer governante? Ou há condições suficientes para, por mais que aqueles planos sejam anunciados, o design emergir bottom-up pela interação entre os agentes no terreno? A verificarem-se algumas dessas condições, melhor farão os decisores políticos e a administração pública em, literalmente, participar dessa emergência – contribuindo para o processo, mas sem o controlar nem o ignorar.
A este respeito, numa recente sessão sobre o relacionamento entre a inovação tecnológica dos tratores e a sociedade rural, apresentei um estudo do caso da mecanização da ordenha nos Açores, particularmente em São Miguel, que creio ser significativo.
Na década de 1960, o sistema tradicional da ordenha manual afigurou-se insustentável dada a dimensão da emigração açoriana para a América do Norte. Imediatamente se apontou a mecanização como solução. Esta, porém, enfrentava os obstáculos da dificuldade de acesso a financiamento, da fragmentação das propriedades rurais (pequenas parcelas de formas irregulares dificultavam a operacionalização das máquinas), e da falta de conhecimentos elementares, na população rural, para um sistema produtivo mecanizado.
Em resposta, por um lado, logo nessa década foram criados externatos nos concelhos rurais da ilha, e aumentou o número dos estudantes universitários no continente. E, desde meados da década seguinte, sucederam-se os programas de financiamento, assim como as leis do arrendamento rural foram revistas a favor da proteção do investimento por rendeiros (que eram a maioria dos lavradores). Em troca, a divisão da propriedade não sofreu alterações significativas até ao fim do século.
Por outro lado, desde Renano Henriques, que seria a maior autoridade nacional em ordenha mecânica, logo a meados dos anos 60, até ao Consultancy Group do instituto irlandês An Foras Talúntais, na primeira metade da década de 80, a generalidade dos peritos propôs um plano, sem grandes divergências, para um sistema mecanizado de ordenha e maneio do gado nos Açores. O qual foi assumido pelas pelas instituições públicas relevantes. A saber, a favor da utilização de salas de ordenha fixas, com os animais, segundo Henriques, estabulados quando possível.
Mas esse plano não foi assumido pelos agentes que, no terreno, exploraram aquelas novas condições institucionais e sociais. Ao contrário, desde 1969 ou 1970, entre os lavradores e os designers e produtores de equipamentos de ordenha mecanizada, cresceu rapidamente o número de máquinas de ordenha móveis, mantendo-se o gado em pastagem.
Até que, em 1989, o Governo Regional, contra o limite mínimo de 9 vacas por manada para justificar o investimento na mecanização da ordenha, apontado pelos irlandeses contratados por esse mesmo governo, publicou uma Portaria a anunciar o subsídio, a fundo perdido, para aquisição de máquinas móveis a utilizar em manadas com pelo menos 5 vacas leiteiras.
Resultado: o facto é que o sistema de produção de leite nos Açores, em 1999, se caracterizava por, em pouco mais de 2% do território nacional, mas repartida ainda essa parcela por 9 ilhas, um pouco menos de 3% da população portuguesa era responsável por 25% do leite bovino nacional. Não sei se a ideia de Renano Henriques e dos irlandeses se teria revelado ainda mais produtiva. Mas duvido que haja muitos processos de modernização de setores inteiros de produção em Portugal que apresentem tamanho sucesso.
Sucintamente, aqui, direi apenas que as condições do enjeitamento do plano proposto top-down e da génese de um design bottom-up desse sistema sociotécnico parecem ter sido, de um lado, a forte motivação da população para o progresso socioeconómico. Do outro lado, porém, mantinham-se traços culturais ancestrais – designadamente, a valorização das relações sociais personalizadas, em detrimento das institucionais e formais, e uma desvalorização do conhecimento teórico e da racionalização dos processos. Os quais foram compatíveis com aquele outro design do novo sistema, que não o proposto top-down.
À atenção dos nossos políticos e especialistas que, a partir dos seus gabinetes, desenham e anunciam toda a sorte de sistemas sociotécnicos: às vezes temos de usar uma palavra como “realidade”, em referência ao que estará para além das réguas e esquadros, e temos de contar com isso.
Nota extra: a sessão acima mencionada foi uma entre mais de cinquenta, numa conferência que levou a Coimbra cerca de 500 investigadores para bem mais de 4 centenas de comunicações. Das quais, sobre casos portugueses, creio que não chegariam às 2 dezenas. Na sala da sessão em que participei, que esteve cheia de manhã e quase cheia à tarde, que me tenha apercebido, eu era o único português. Certamente outros temas podem ter suscitado maior interesse conterrâneo. Fica-me essa esperança, pois, caso contrário, receio qualquer das interpretações que me ocorrem sobre um tal desinteresse ou abstenção. Referir-se-á estritamente ao mundo rural? A nossa floresta, mais a lavoura etc., não deverá ter grande solução. Referir-se-á, em geral, à reflexão sobre tecnologia na sua relação com a sociedade? Ainda para mais em época de nova revolução industrial (a da IA), o que dificilmente terá solução é o país.
(*) Professor do ensino secundário, São Jorge (Açores).
Em destaque
-
Multimédia
Windows: Da “janela” para o computador ao “ecrã para a IA” em quatro décadas de transformação -
App do dia
Com o Lego Builder, as instruções em papel transformam-se numa experiência 3D e colaborativa -
Site do dia
Concurso de fotografia da Nikon revela a beleza oculta do mundo microscópico. Veja as melhores imagens -
How to TEK
Os vídeos automáticos são irritantes? Saiba como desligar o player nos browsers

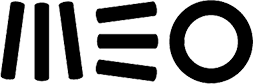
Comentários