
Por Luis Bravo Martins (*)
Em menos de três anos, a GenAI (inteligência artificial generativa) deixou de ser uma curiosidade futurista e tornou-se uma companheira diária de milhões de pessoas. Serviços como ChatGPT, Midjourney e Runway multiplicaram a nossa capacidade de produção digital, quer em qualidade, quer em quantidade.
Com investimentos na casa dos biliões e promessas de mais e mais ondas de produtividade e criatividade, a GenAI sedimentou-se como uma camada essencial da nossa vida digital. Habituámo-nos a gerar conteúdo em escala através de uma sequência de cliques mais ou menos encadeados, que correspondem a outras tantas tentativas e erros. Habituámo-nos ao diálogo direto com o algoritmo, de forma a afinarmos o prompt até obtermos o resultado desejado.
Um lado menos visível mas perfeitamente natural deste hábito é o desperdício digital. A natureza destas sequências de tentativa e erro — aparentemente inofensiva — acarreta custos financeiros e ambientais significativos.
A energia por detrás da magia
Estudos da Universidade de Massachusetts Amherst revelaram que treinar um único LLM (Large Language Model) pode emitir a mesma quantidade de carbono que cinco automóveis ao longo de toda a sua vida útil.
Contudo, a verdadeira escalada surge na fase de inferência — ou seja, quando interagimos com o modelo e ele nos fornece resultados. Cada volta na GenAI slot machine consome enormes quantidades de energia, bem como enormes quantidades de água para manter os servidores frios e operacionais.
Um relatório da Epoch AI estima que, até 2030, a fase de inferência de modelos GenAI consuma até 134 terawatts-hora (TWh) por ano — mais do que o consumo elétrico anual dum país como a Suécia.
Esta pegada deve-se não apenas às características inerentes do serviço mas também à nossa incapacidade de obter o resultado desejado à primeira tentativa. Segundo a Anthropic, o utilizador médio insere entre 7 e 12 prompts antes de chegar a um resultado satisfatório.
O mesmo acontece com todas as organizações e até cidades que estão a transformar-se com AI. Como por exemplo, no projeto Citiverse, gémeos digitais de cidades são gerados em tempo real com recurso a IA e XR para, através de simulações, prever o tráfego, potenciais catástrofes e a melhor resposta a emergências. Estas simulações não são geradas uma única vez mas continuamente, de forma a continuamente prevenirmos problemas. E a continuamente aumentar o nosso consumo energético. Até que níveis? Com que consequências? Sem uma abordagem responsável, arriscamo-nos a normalizar uma cultura de experimentação infinita com recursos finitos.
Como inverter a maré?
À partida, existe uma falta de consciência sobre o desperdício digital, de forma genérica (que é um bom tema para um outro artigo).
Mas é possível incorporar princípios de sustentabilidade no próprio design das ferramentas, através de medidas como:
- Limitação de consultas redundantes ou sugestão de correções de prompt antes da geração completa;
- Exibir o impacto ambiental de “mais uma tentativa”;
- Facilitar a pesquisa e reutilização de criações anteriores (por ex., como no mural do Midjourney, onde podemos aceder publicamente a imagens geradas por outros utilizadores);
- Criar recursos educativos públicos, possivelmente certificados, que incentivem a sua reutilização;
- E, sobretudo, integrar métricas de sustentabilidade no design de plataformas ligadas à infraestrutura urbana e a gémeos digitais.
Tal como aprendemos a reciclar no mundo físico, é tempo de trazer a sustentabilidade e o reduzir – reciclar – reusar para os nossos processos criativos no digital. Porque, embora a criatividade possa ser infinita, as nossas fontes de energia — e o nosso planeta — não o são.
(*) Vice-Presidente da XR Safety Intelligence - Europe
Em destaque
-
Multimédia
YANGWANG U9 Xtreme é o novo automóvel de produção mais rápido do mundo -
App do dia
Focus Friend: E se um feijão o ajudasse a passar menos tempo “colado” ao smartphone? -
Site do dia
Magic Translate traduz texto em imagens para mais de 100 idiomas através de IA -
How to TEK
O seu computador está mais lento? Conheça algumas das causas e como resolver

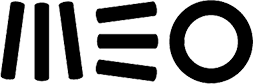
Comentários